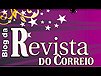You are currently browsing the category archive for the ‘Jornalismo em Saúde’ category.

Ricardo Afonso Teixeira*
A Scientific American, publicação do grupo editorial da Nature, nos trouxe este mês uma reflexão que compara o comportamento das atuais gigantes da mídia com a das companhias de tabaco no século passado. O artigo é assinado pelo cientista David Robert Grimes, um dos grandes nomes mundiais na luta contra a desinformação.
Desde a década de 1940 já tínhamos evidências da associação entre o tabagismo e câncer de pulmão e, ainda na década de 1950, as companhias de cigarro contrataram uma campanha publicitária poderosa para reforçar a ideia de dúvida. Criava assim na população geral uma opinião de que a associação entre cigarro e câncer era ainda controversa. Mark Zuckerberg da Meta usa a mesma estratégia da dúvida quando diz que não existem evidências científicas que mostrem um efeito danoso das redes sociais sobre a saúde mental, apesar de centenas de estudos mostrarem o contrário.
Zuckerberg anunciou este ano a interrupção da checagem de fatos, modelo já seguido pelo X, com a justificativa de que a checagem tinha um custo alto e por não respeitar a liberdade de expressão. Elon Musk do X se autointitula um defensor da liberdade de expressão absoluta e elenco aqui dois resultados dessa liberdade absoluta: incitação pelo Facebook ao genocídio em Mianmar em 1998 e um vídeo no Tik Tok que alcançou 1.8 milhão de views recomendando lavagem intestinal anual com água sanitária para a prevenção/tratamento de parasitose intestinal. Há pouco tempo uma criança de oito anos morreu vítima de um desafio da internet que propunha inalação de desodorante.
Para que a desinformação cause danos, ela não precisa convencer. Só precisa gerar dúvidas. É o fenômeno da verdade ilusória, quando a exposição repetida de uma informação nos faz aceitá-la, mesmo que intelectualmente sabemos que se trata de uma ideia falsa. Um capítulo à parte são os riscos que informações sem qualquer tipo de regulação oferecem às democracias. Juristas, ex-ministros, artistas lançaram recentemente um manifesto que pede regras para as redes sociais. O manifesto diz “Se é crime no mundo físico, também deve ser crime no mundo virtual! Internet sem regulamentação mata!”. Aqui você tem o link para assinatura: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm6UEfbjh-Hvltw5lICgTgW5mJfZmZ0MA2kYnr69A77dBl9g/viewform?pli=1
*Ricardo Afonso Teixeira é Doutor em Neurologia pela Unicamp e neurologista do Instituto do Cérebro de Brasília

Ricardo Afonso Teixeira*
O cérebro humano entende a essência de uma cena visual em um piscar de olhos, mas a rapidez com que isso acontece na linguagem falada ou escrita é a mesma? Imagine a velocidade com que processamos sinais escritos diariamente, notificações que você recebe pelo seu smartphone ou alertas na estrada. Imagine ainda que você posta um vídeo nas redes sociais e usa um aplicativo de geração automática de legendas. Frases curtas das legendas serão registradas pelos cérebros de sua plateia mais rapidamente que o áudio. Parece-lhes contraintuitivo? O recado curto na linguagem escrita chega ao cérebro em aproximadamente 130 milissegundos, a duração do mesmo piscar de olhos para a percepção de uma imagem, o tempo que demoramos para ouvir uma única sílaba.
Esses 130 milissegundos correspondem ao tempo para ativação do lobo temporal esquerdo, região responsável pela interpretação da linguagem. Pesquisadores da Universidade de Nova Iorque mostraram essa resposta, através da magnetoencefalografia, após submeterem voluntários a flashes, com duração de 300 milissegundos, de frases simples de três palavras incluindo sujeito, verbo e objeto, como por exemplo “enfermeiros limpam feridas”.
Impressionante é que a rapidez de ativação cerebral é até maior quando as palavras eram mostradas dentro desse modelo de frases simples do que quando eram expostas individualmente. Isso sugere que cada uma das palavras apresentadas simultaneamente em sentenças simples e com estrutura sintática reforça o reconhecimento das outras por fazerem parte de um bloco único com significado. É uma ativação mais próxima do reconhecimento de uma cena, digo estímulo visual, bem mais rápida que a linguagem falada em que a sequência temporal é soberana e se faz palavra após palavra. O estudo foi publicado na última semana no periódico Science Advances que é parte da editoria da revista Science.
*Ricardo Afonso Teixeira é doutor em neurologia pela Unicamp e neurologista do Instituto do Cérebro de Brasília

Um estudo recentemente publicado no JAMA Network Open, conduzido nos EUA, aponta que falsas informações sobre a vacinação contra o coronavírus têm duas vezes mais chances de serem consideradas verdades entre pessoas com sintomas depressivos. De uma forma geral, sabe-se que um estado mental com viés negativista exacerba a propagação de fake news. E pessoas com quadros depressivos estão com suas mentes nesse modo negativista, enxergando o mundo com lentes nem um pouco cor-de-rosa.
O estudo, envolvendo mais de 15 mil voluntários, foi conduzido por pesquisadores da Universidade de Harvard envolvendo todos os 50 estados americanos e Washington D.C. Os pesquisadores mostraram que a prevalência de depressão foi três vezes maior do que a de estudos realizados antes da pandemia. Aqueles que apresentavam sintomas depressivos moderados ou severos acreditavam mais em notícias falsas sobre a vacinação e também eram os que menos se vacinavam. Numa segunda avaliação, realizada dois meses depois, aqueles que tinham sintomas depressivos na primeira avaliação passavam a acreditar ainda mais em informações falsas. Esses achados não foram influenciados pelo posicionamento político de cada um.
Os pesquisadores deixam claro que os resultados não devem ser interpretados como fake news causando depressão, mas que as pessoas deprimidas têm maior tendência em acreditar nesse conteúdo falso e são mais vulneráveis a contrair a infecção por uma menor disposição em se vacinar.

.
A comunicação de um alerta, seja para seu filho, ou mesmo em uma campanha de promoção de saúde, deve evitar a ideia de que muitas pessoas têm o hábito de fazer aquilo que você não quer que seja feito. Quando passa a impressão de que um mau comportamento é popular, seu interlocutor tem menos chance de seguir seu conselho de ir na direção oposta. Ele vai pensar, mesmo que de forma inconsciente, que o comportamento indesejado por você é a norma social.
A revista Scientific American trouxe recentemente uma série de exemplos reais que devem servir de alerta a pais, educadores, jornalistas, a quem trabalha com políticas públicas e a qualquer um que espera que seu conselho seja seguido. Veja alguns exemplos:
-Campanha antidrogas promoveu o aumento do consumo de drogas entre estudantes ao passar a ideia de que as drogas estão em todos os cantos da cidade
-Campanha para prevenção de suicídio entre adolescentes que enfatizava a alta incidência do problema aumentou o número daqueles que passaram a pensar em terminar com a própria vida
-Sonegação fiscal aumentou após a campanha de que as multas seriam aumentadas em seus valores já que muitas pessoas tinham sonegado no último período
-A mensagem de um Parque Nacional “Muitos visitantes anteriores levaram pedras para casa. Não faça as coisas piorarem levando mais pedras” levou a mais roubos do que a frase dizendo “Por favor, não leve para casa pedras do parque.
-Numa eleição, chamar a atenção para a porcentagem dos que não compareceram às urnas pode aumentar o número de abstenções
-Ao dar orientações sobre a necessidade de fugir do sedentarismo, tabagismo ou sexting, por exemplo, o tiro pode sair pela culatra se a mensagem for carregada da realidade epidêmica desses problemas
Alguns exemplos de mensagens bem-sucedidas:
-Fotos de doenças nos maços de cigarro e campanhas que trazem o número de mortes por tabagismo ao invés de chamar a atenção para a grande frequência do hábito
-Enviar correspondência a médicos dizendo que eles estão prescrevendo mais antibióticos por paciente do que a maioria dos seus colegas de profissão
-Correspondência aos motoristas de uma cidade dizendo que a maioria paga suas multas dentro de 13 dias
-O hotel deixa uma mensagem dizendo que a maioria dos hóspedes reutilizam as toalhas
-Você terá mais chance de ir votar se receber uma mensagem lembrando que a maioria dos seus vizinhos estão votando
O uso do conhecimento das ciências sociais para influenciar o comportamento dos outros não é simples, mas se feito de forma correta, pode ser altamente eficaz em inúmeras dimensões do nosso dia a dia. Isso vai desde o conselho para o seu filho até campanhas publicitárias de promoção de saúde, engajamento cívico e ecológico, etc.

.
Um estudo recém-publicado pelo prestigiado periódico Procedings of the National Academy of Sciences mostrou que quando um indivíduo tem contato com notícias falsas através das redes sociais, ele têm menor tendência de checar sua veracidade.
Pesquisadores da Columbia Business School conduziram oito diferentes experimentos em que os voluntários eram apresentados a uma sequência de notícias. Metade dos participantes tinham acesso às notícias na tela do computador que dava a dica que eles estavam julgando as notícias simultaneamente a várias outras pessoas, como se fosse uma simulação das plataformas de redes sociais. A outra metade recebia a dica que estava fazendo uma análise solitária. Eles poderiam responder falso, verdadeiro, ou uma terceira opção que era de que iriam fazer uma investigação rápida antes de responder. Aqueles que respondiam “em grupo” checavam menos a veracidade das notícias. É como se as pessoas se sentissem mais seguras na companhia de outras e reduzissem instintivamente o estado de vigilância. Boa parte dos animais tem um instinto de que ao andar em bandos estão mais seguros. Os humanos não parecem ser muito diferentes.
Isso numa época que as pessoas passam em média duas horas diárias nas redes sociais nos EUA. Pesquisas realizadas com usuários brasileiros apontam para cifras superiores a três horas diárias.

.
Hoje em dia ligamos o rádio ou a TV e ouvimos especialistas em marketing nos ensinando sobre como o Neuromarketing pode ser uma valiosa ferramenta para o sucesso das empresas. Nesse caso, a ideia é de que algumas estratégias de comunicação podem ser mais eficazes no processo de “pescar os cérebros dos consumidores” com base em sérios, porém poucos, experimentos neuropsicológicos e de imagem cerebral. Grandes empresas já começam a pedir assessoria de neurocientistas para compor o time que pensa as estratégias de marketing. Paralelamente ao crescimento do volume de conhecimento nessa área, podemos observar um crescimento muito mais veloz no número de consultores de marketing que parecem às vezes já deterem o segredo do “centro cerebral de compras”.
Profissionais da saúde que trabalham com a mente e o cérebro já vendem programas de estimulação e exercícios para o cérebro chamados de Neuróbica, Neurofitness. Temos evidências científicas sérias sobre efeitos de programas de exercícios cognitivos através de “ginásticas cerebrais padronizadas”’, especialmente entre idosos. Queixas de memória são muito frequentes entre adultos jovens e na maioria das vezes essas queixas são só a ponta do iceberg do estresse no dia-a-dia, quadros de ansiedade e depressão ou outras doenças. Buscar “consertar a vida”, dando mais chance ao lazer, à atividade física e ao bom sono, reduzindo o estresse e tratando o corpo e a mente quando preciso, provavelmente deixe o cérebro muito mais “sarado” do que cursos de criatividade, de memorização ou de como usar melhor os dois lados do cérebro.
Temos vivenciado discussões sobre a Neuroestética, uma forma de explicar a experiência estética através das neurociências. Alguns estudos têm demonstrado que a obra de um certo pintor ativa mais certas regiões do cérebro enquanto a obra de outro pintor ativa outras regiões. Outros nos mostram que a obra de um poeta estimula certas áreas do cérebro por conter um tipo específico de fórmula sintática. Não precisamos nos esforçar muito para defender a ideia de que a arte está longe de ser um fenômeno meramente estético, em que padrões de tipo A e tipo B estimulam áreas X e Y do cérebro. A apreciação da arte envolve não só a experiência sensorial, como também a experiência de vida de quem a aprecia, o contexto histórico da obra, etc. Chega a ser uma provocação patética tentar explicar o virtuosismo de um bailarino através do seu padrão de ativação neuromuscular.
E por aí vai. A cada dia somos surpreendidos com os mais originais e, às vezes duvidosos, “neuros”: neurofilosofia, neurocomunicação, neurofuturo, neuroética, neuronutrição, neuro-psicanálise, programação neurolinguística, neuroeconomia, etc. A impressão é que o prefixo neuro é muitas vezes usado para dar um ar de credibilidade e legitimidade científica ajudando a vender ideias que ainda estão saindo do ovo ou que não passam de meras neuroespeculações e neuroextrapolações.
Essas neuroespeculações também têm sido chamadas de neuromitos e uma pesquisa recente publicada pelo periódico Frontiers in Psychology mostrou que leigos que fizeram cursos de neurociência diminuem a prevalência desses mitos, mas eles ainda se mantêm fortemente presentes. Exemplos? Usamos só 10% do nosso cérebro, estimulação do hemisfério esquerdo e direito para um melhor aprendizado, etc.
Nesta última quarta-feira estreamos a nova coluna na Rádio CBN Brasília – CUCA LEGAL .
Não faz muito tempo que o conhecimento cerebral era limitado ao estudo de cérebros danificados, e a partir do que era perdido, construía-se o conhecimento da função de um cérebro normal. Em humanos, isso só podia ser feito em necropsias. As inúmeras tecnologias modernas, especialmente as de neuroimagem, abriram janelas gigantes para o entendimento do funcionamento cerebral.
Hoje entendemos o cérebro infinitamente mais do que há 20 anos e a proposta do CUCA LEGAL é trazer aos ouvintes da CBN pílulas de conhecimento sobre esse órgão que nos faz pensar, sentir e agir. O cérebro é o nosso órgão de relação. É ele que noz interagir com o meio.
Resultados de pesquisas recém-saídas do forno nas áreas de neurociências e psicologia serão compartilhados, especialmente daquelas que têm relação com nosso cotidiano. Além disso, vamos tratar das principais doenças neurológicas e psiquiátricas que afetam a existência humana.
Temas que podem parecer difíceis e distantes da nossa realidade podem ser bem LEGAIS quando se usa bom senso e bom humor. Essa é a proposta do CUCA LEGAL! Entender melhor o cérebro é como olhar-se no espelho, e às vezes só o espelho nos mostra que estamos com um feijão entre os dentes que ninguém nos avisou.
CUCA LEGAL com o neurologista Ricardo Teixeira – todas as quartas e sextas-feiras às 11:00h na Rádio CBN Brasília
Percepção Pública da Ciência e Tecnologia no Brasil – pesquisa realizada em 2010 com cerca de duas mil pessoas em várias regiões do país
Interesse ou muito interesse por temas específicos |
|
| Meio Ambiente | 83% |
| Saúde | 81% |
| Religião | 74% |
| Economia | 71% |
| Ciência e Tecnologia | 65% |
| Esportes | 62% |
| Arte e Cultura | 59% |
| Moda | 44% |
| Política | 29% |
*
Assuntos de interesse em Ciência e Tecnologia |
|
| Ciência da Saúde | 30.3% |
| Informática e Computação | 22.6% |
| Agricultura | 11.2% |
| Engenharias | 8.4% |
| Ciências Biológicas | 6% |
| Ciências Físicas e Químicas | 3.8% |
| Matemática | 3.7% |
| Ciências da Terra | 3.7% |
| Ciências Sociais | 3.7% |
| História | 3.3% |
| Astronomia e Espaço | 1.6% |
Pesquisas continuam apontando que o médico é a fonte de informação preferida e mais confiável em questões referentes a saúde
¨ a internet transforma a CONFIANÇA CEGA em CONFIANÇA INFORMADA
Paciente deve assumir papel ativo na promoção de sua saúde e nas decisões médicas
¨ médicos têm receio de que o paciente não tenha preparo para
digerir detalhes negativos da sua condição
¨ demanda de informação de qualidade
Risco de DESPROFISSIONALIZAÇÃO do médico?
¨ Haug 1973: aumento do nível educacional e acesso ao conhecimento técnico-científico iriam promover a desprofissionalização de diversas atividades com perda do monopólio sobre o conhecimento e autoridade sobre clientes
O conteúdo levado à consulta pelo paciente é legítimo e passa a ameaçar a relação médico-paciente quando o médico se sente DESAFIADO
¨ esse desafio pode ser relacionado à maior demanda de tempo
¨ ambas as partes podem criar situações extremas
Conteúdo de saúde das mídias complementa o curto TEMPO de consulta, confirmam a impressão diagnóstica inicial e também pode
¨ suprir a demanda de humanização (fóruns)
¨ disparar a decisão da procura pelo médico
¨ enriquecer o repertório do paciente na consulta
¨ facilitar a comunicação e aderência ao tratamento
A percepção dos pacientes é a de que esse conteúdo não desconstrói a relação médico-paciente
¨ é um suporte e não um desafio
¨ o médico passa a trabalhar COM o paciente e NÃO PARA ELE
¨ atualização médica!! Para que o paciente não seja o MAIS EXPERT
dessa relação
Fóruns de doenças
¨ especialmente úteis em condições crônicas, raras e estigmatizantes
E-Doctor
¨ o papel do e-doctor é o de empoderar o usuário a continuar a busca de conhecimento em saúde para que participe de forma ativa nas decisões médicas
¨ no Brasil, o Conselho Federal de Medicina – resolução 1974/2011 artigo 3º – recomenda aos médicos não oferecer consultoria a pacientes e familiares como substituição da consulta médica presencial
Clique aqui e confira o bate-papo do Dr. Ricardo Teixeira na Rádio CBN Brasília em que ele aborda o fenômeno da internet na relação médico-paciente.
A divulgação de notícias relacionadas à saúde pela mídia pode influenciar o comportamento de pacientes e de profissionais de saúde e é presumido que o tópico pesquisa científica é um dos mais explorados. O periódico CLINICS da Universidade de São Paulo publicará, em sua edição de março de 2012, uma análise das características das notícias de saúde de dois dos principais jornais brasileiros – Folha de São Paulo (FSP) e o Estado de São Paulo (OESP).
Pesquisadores do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp e do Instituto do Cérebro de Brasília avaliaram retrospectivamente notícias relacionadas à saúde publicadas nas versões eletrônicas de ambos os jornais por um período de três meses. Foram incluídos apenas os artigos que mencionaram pesquisas e estes foram categorizados de acordo com o assunto, fonte, local do estudo e natureza do título do artigo. Foram analisadas também a presença de conhecimento prévio sobre o assunto, citação do periódico científico, contextualização nacional e referência a produtos/empresas.
Os resultados mostraram que artigos sobre pesquisas científicas corresponderam a 56.7% e 20.4% de todos os artigos relacionados à saúde publicados pela FSP e OESP, respectivamente. FSP publicou mais artigos sobre estudos nacionais (FSP 56.4%; OESP 7.9%) e teve a maioria dos artigos (98.2%) escritos pelo staff do jornal. FSP também contextualizou melhor seus artigos à realidade brasileira.
A maioria dos artigos do OESP (93.1%) era originada de agências de notícias. OESP apresentou uma maior tendência em citar o nome do periódico onde o estudo foi publicado, tinham títulos mais otimistas, mas houve pouca contextualização nacional do tema em seus artigos, mesmo entre aqueles originados de agências de notícias nacionais.
Cerca de um terço dos artigos em cada um dos jornais foi dedicado ao tema “estilo de vida e comportamento”, desconstruindo uma velha crença de que o jornalismo em saúde é voltado de forma predominante às doenças. Os temas “câncer” e “doenças cardiovasculares” foram mais abordados pela FSP, enquanto o tema “genética e pesquisa experimental” foi mais explorado pelo OESP. Artigos que mencionam produtos e equipamentos de forma positiva foram mais presentes no OESP, mas essa diferença não foi significativa.
A importância da mídia para a saúde da população não deve ser subestimada, já que ela é uma das principais fontes de informação sobre saúde. O conteúdo divulgado influencia comportamentos, efeito que é ainda mais relevante numa sociedade que cada vez mais lida com a saúde como se fosse um produto de consumo. O objetivo da presente pesquisa não é o de desmerecer ou exaltar qualquer um dos jornais, mas sim de contribuir para a criação de estratégias para a uma melhor comunicação em saúde e conseqüente promoção da saúde no país.
Reconhece-se que a forma mais correta de divulgar o risco absoluto de algum problema de saúde ou de eficácia de um tratamento é usando o formato chamado de freqüência natural, como por exemplo, “chance de dois em 1000”. Essa é a recomendação de várias organizações ícones da saúde como o sistema de revisão Cochrane e o equivalente britânico do órgão regulador americano FDA. Entretanto, temos poucas evidências de que isso realmente é o mais certo. Um estudo recém-publicado pelo periódico Annals of Internal Medicine demonstra que essa crença parece não fazer muito sentido.
Através de uma enquete na internet, quase três mil americanos avaliaram cinco diferentes formatos da mesma informação que descrevia a eficácia de dois tratamentos hipotéticos: 1) freqüência natural – ex: 2 em 1000; 2) freqüência variável, para fazer com que o numerador seja sempre maior que 1 – ex: 2 em 100, 2 em 1000, 2 em 10000; 3) porcentagem; 4) porcentagem associada a freqüência natural; 5) porcentagem associada a freqüência variável.
Os resultados mostraram que o formato porcentagem foi o que permitiu a melhor compreensão. Freqüências naturais, e mais ainda freqüências variáveis, foram os formatos que passaram com mais dificuldade a idéia de custo / benefício de um tratamento. Além disso, a associação da freqüência natural à porcentagem não facilitou em nada a compreensão.
Podemos falar então: o tratamento com a medicação “x” aumenta em 1% a chance de dor de cabeça (3% com a medicação e 2% com o placebo). Até aqui estamos tratando de risco absoluto. O menos recomendável de todos os formatos de apresentação de resultados é o chamado risco relativo, que dá uma impressão de que os resultados são bem mais robustos. O mesmo recado dos efeitos colaterais descrito acima em formato de risco relativo seria: a medicação aumenta a chance de efeitos colaterais em 50%.
Um estudo recém-publicado pelo periódico Annals of Internal Medicine analisou o conjunto da pesquisas mais relevantes sobre o impacto que tem um baixo grau de alfabetização em saúde e concluiu que esse é um problema que está associado a piores indicadores de saúde, uso menos eficiente dos serviços de saúde e dificuldades para entender e seguir as orientações médicas.
Cerca de cem pesquisas foram avaliadas e os resultados apontaram que pobres níveis de alfabetização em saúde têm associação com os seguintes índices:
– mais internações hospitalares;
– mais atendimentos em serviços de emergência;
– menos exames de mamografia preventivos e menos vacinação para gripe;
– menos habilidade em demonstrar que as medicações estão sendo usadas de forma apropriada;
– menor capacidade para interpretar bulas de medicamentos / rótulos de alimentos ou mensagens de promoção de saúde;
– pior estado de saúde e maior mortalidade entre os idosos.
** essa lista restrita de indicadores não quer dizer que outras condições também não tenham uma associação com a alfabetização em saúde.
Um dos principais objetivos da comunicação em saúde é proporcionar que indivíduos e comunidades melhorem comportamentos relacionados ao processo saúde-doença, através do compartilhamento de informação. Isso pode resultar no incremento da alfabetização em saúde da população, que pode ser definida como a capacidade de obter, processar e compreender informação básica em saúde necessária à tomada de decisões apropriadas e que apóie o correto seguimento de instruções terapêuticas. Estima-se que nos Estados Unidos, anualmente, são gastos entre US$ 106 e 236 bilhões anuais por conta do baixo nível de alfabetização em saúde e suas consequências, como a não procura de ajuda médica quando necessária, a dificuldade em assumir hábitos de vida saudáveis e erros no uso de medicações.
A comunicação em saúde tem sido definida como a “principal moeda do século XXI” nesse setor e, nos Estados Unidos, vem sendo encarada como a mais importante área na interface entre ciência e sociedade neste século, fazendo parte dos objetivos do Healthy People 2010, a agenda oficial de saúde pública do governo americano. No Brasil, deliberações das Conferências Nacionais de Saúde apontaram informação, educação e comunicação como elementos estratégicos para consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e para a conquista da cidadania plena.
Quando se fala em comunicação pública da ciência, alguns autores criticam o uso do termo “alfabetização científica”, e a mesma crítica pode ser estendida ao termo “alfabetização em saúde”. O termo alfabetização reflete o modelo anglo-saxão de comunicação em ciência, também conhecido como modelo de déficit, centrado no indivíduo, no qual o público é uma entidade passiva com falhas de conhecimento, com fluxo de informação numa única direção. Por outro lado, o termo cultura em saúde traz uma contextualização mais sistêmica, saindo do foco do indivíduo como mero depósito de informação. Outros termos poderiam ser utilizados em substituição ao de alfabetização em saúde, como é o caso de entendimento público da saúde, assim como consciência pública da saúde, ambos chamando a atenção de que cultura em saúde vai além do processo de aquisição de informação, e envolve a construção de uma sociedade com visão crítica das diversas dimensões que envolvem o conhecimento nessa área.
Hoje em dia, 5% das mortes em nosso país são decorrentes de doenças infecciosas, mas em 1930 esse número chegava a 50%, e essa proporção deveria ser ainda maior no século 19, antes de Osvaldo Cruz. No dia 05 de agosto, comemora-se o Dia Nacional da Saúde em homenagem ao dia do nascimento desse grande médico, cientista, epidemiologista, sanitarista, gestor público
Oswaldo Cruz é um dos maiores pilares da história da saúde no Brasil. Na sua luta patriótica pela saúde, foi uma das mais fortes lideranças no avanço da política sanitária impulsionando definitivamente o progresso do país. Na pesquisa sobre percepção pública de ciência e tecnologia em nosso país, conduzida em 2010, Oswaldo Cruz foi o cientista mais lembrado pelos entrevistados. É indiscutivelmente um herói nacional. Morreu em 1917 aos 44 anos.
Voltando ao conceito de saúde.
Em 1948, a Organização Mundial de Saúde (OMS) formulou uma definição de saúde bem arrojada para a época e que é válida até os dias de hoje: saúde é um estado de completo bem estar físico, mental e social e não simplesmente a ausência de doença. Já nessa época, o conceito já era alvo de muitas críticas, mas mesmo assim ele nunca foi adaptado pela OMS. Elenco a seguir duas das mais importantes críticas.
1- O termo “estado de completo bem estar” colabora para o fenômeno de medicalização da sociedade. Medicalização define o fenômeno em que um comportamento ou uma condição física ou mental passa a ser tratado como se fosse um problema médico, recebendo um rótulo de doença e opções de tratamento. Dessa forma, é difícil olhar para os lados e encontrar alguém que seja tão “completo” assim.
A medicalização não para de crescer. Percebemos limites da normalidade de marcadores biológicos cada vez mais estreitos além de um crescente número de novas doenças. O que não era diabetes agora se chama pré-diabetes. O que não era pressão alta, agora é pré-hipertensão. Transtorno de déficit de atenção que tinha que começar na infância, agora já se discute que pode ter seu início na vida adulta. Quase não existe mais tristeza. Qualquer sentimento parecido é encarado como depressão.
O centro da discussão quando se fala em medicalização é a força da indústria farmacêutica num processo que impulsiona a sociedade civil, profissionais de saúde, órgãos do governo e a mídia a retroalimentarem a cultura de que todo organismo vivo da espécie sapiens, a princípio, deve ter alguma doença ou precisa de algum remédio. Todos esses atores têm seu papel na medicalização;
2- Os tempos mudaram. Hoje em dia morre-se mais tardiamente e a chance de desenvolver doenças crônicas é maior, o que dificilmente permite uma situação de “completo bem estar”. Hábitos de vida modernos estão associados aos alarmantes índices de obesidade atuais e ao aumento da prevalência de diabetes e hipertensão arterial. Envelhecer com alguma doença crônica é quase a regra e essa não é uma condição restrita aos países ricos. Em 2007, 72% dos brasileiros morriam por doenças crônicas e provavelmente esse número hoje não deve ser muito diferente.
A definição da OMS não contempla a capacidade humana de adaptação a uma doença crônica com a preservação do bem estar. Uma forma mais moderna de definir a saúde seria a capacidade de adaptação para a manutenção da independência e sensação de bem estar. Ao invés de um estado de completo bem estar, o EQUILÍBRIO DINÂMICO ENTRE OPORTUNIDADES E LIMITAÇÕES também parece uma definição de saúde mais interessante.
Na última edição do periódico Archives of Internal Medicine, temos os resultados de uma pesquisa que ilustra bem um fenômeno que temos vivenciado de forma crescente à medida que os testes diagnósticos ficam cada vez mais sofisticados. Poderíamos chamar esse fenômeno de OVERTREATMENT, e o recado principal é que nem tudo no corpo que é diferente ou alterado responde a um tratamento. Pode ser que em muitas dessas situações, o melhor mesmo seja ficar quieto, não intervir.
Nesse estudo, os pesquisadores acompanharam mais de mil coreanos adultos e assintomáticos que foram submetidos a uma tomografia computadorizada das artérias coronárias, método que tem o poder de demonstrar o grau de aterosclerose. Mais de 20% dos voluntários tinham evidência de aterosclerose das coronárias e, após acompanhamento de um ano e meio, foi demonstrado que esses indivíduos estavam fazendo mais uso de aspirina e estatinas, foram mais submetidos a outros testes diagnósticos para doença coronariana e procedimentos de revascularização do coração. Entretanto, todo esse arsenal de medidas não reduziu o número de infartos do coração no período estudado.
A realização de tomografia das coronárias como check up ainda é visto como uma medida heterodoxa pela falta de evidências que demonstrem que os benefícios são maiores que os riscos de exames e procedimentos invasivos que seus resultados podem desencadear. Estudos mostram que as pessoas que têm sinais de aterosclerose nas coronárias têm mais chance de eventos cardíacos, mas isso não quer dizer que o tratamento desses pacientes tenha que ser diferente daqueles que não têm esse achado na tomografia.
Recentemente, o mesmo periódico publicou outra situação de OVERTREATMENT. Dessa vez foi o screening dos níveis do aminoácido homocisteína. Altos níveis no sangue desse aminoácido têm sido associados a um maior risco de eventos vasculares, como o infarto do coração e o derrame cerebral, e é bem reconhecido que a suplementação de ácido fólico, uma das vitaminas do tipo B, reduz a quantidade do aminoácido no sangue. Entretanto, as pesquisas também demonstram que essa redução dos níveis de homocisteína pelo ácido fólico não é acompanhada de uma menor chance de eventos vasculares, câncer ou mortalidade.
Esses estudos chamam a atenção para o fato de que o tratamento de uma alteração de exame laboratorial não necessariamente garante benefícios à saúde. Outro exemplo que pode ilustrar essa questão é a relação entre a vitamina D e o cérebro. Uma série de estudos tem identificado que indivíduos com menores concentrações de vitamina D apresentam desempenho cerebral menos afiado. Essa é uma constatação que não quer dizer que exista uma relação causa e efeito e não sabemos ainda se a reposição da vitamina promove melhora das funções cerebrais.
O termo medicalização define o fenômeno em que um comportamento ou uma condição física ou mental passa a ser tratado como se fosse um problema médico, recebendo um rótulo de doença e opções de tratamento. Na última semana, o assunto ganhou as páginas do periódico British Medical Journal com um elegante artigo do jornalista australiano Ray Moynihan e ainda rendeu o editorial da editora Fiona Godlee.
O centro da discussão quando se fala em medicalização é a força da indústria farmacêutica nesse processo que impulsiona a sociedade civil, profissionais de saúde, órgãos do governo e a mídia a retroalimentarem a cultura de que todo organismo vivo da espécie sapiens, a princípio, deve ter alguma doença ou precisa de algum remédio. Todos esses atores têm seu papel na medicalização.
Nos EUA, a publicidade de medicações acontece de forma direta com os consumidores com inserções do tipo “Se você está se sentindo desanimado, pode ser que o Depre-pill seja indicado no seu caso. Converse com seu médico sobre isso”. Calcula-se que cada dólar gasto em publicidade direta ao consumidor dê um retorno mais de quatro dólares em vendas.
No Brasil, a ANVISA não permite essa abordagem direta, e por isso, o trabalho das indústrias farmacêuticas junto aos médicos deve ser ainda mais intenso para alcançar as metas de vendas, pois são eles que estão na linha de frente do processo de medicalização, cara a cara com os pacientes. A publicidade dirigida aos médicos inclui as visitas de representantes para oferecer amostras grátis dos últimos lançamentos, propaganda de seus produtos em periódicos destinados à classe médica e patrocínio de eventos científicos.
A medicalização não para de crescer. Percebemos limites da normalidade de marcadores biológicos cada vez mais estreitos além de um crescente número de novas doenças. O que não era diabetes agora se chama pré-diabetes. O que não era pressão alta, agora é pré-hipertensão. Transtorno de déficit de atenção que tinha que começar na infância, agora já se discute que pode ter seu início na vida adulta. Quase não existe mais tristeza. Qualquer sentimento parecido é encarado como depressão.
Grande parte dos médicos especialistas que fazem parte dos painéis que definem os critérios diagnósticos das doenças tem conflitos de interesse. Na definição do último Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais (DSM IV), 56% dos membros dos painéis eram ligados à indústria farmacêutica, e em alguns painéis, como a depressão, essa cifra chegava a quase 100%. E os conflitos de interesse não são só financeiros, mas também intelectuais, pois o médico pesquisador tem a tendência de querer proteger seus “filhotes científicos”. Uma política exemplar tem o Instituto Nacional de Saúde nos EUA, que não permite que nenhum médico que tenha conflitos de interesse com a indústria farmacêutica participe dos painéis decisórios, até mesmo aqueles que simplesmente já tenham declarado um posicionamento intelectual sobre a questão em consideração. O novo Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais DSM V está vindo por aí com novas doenças mentais. Vício na internet não deve ser incluído ainda, mas numa próxima edição poderá estar.
Os médicos devem estar conscientes do debate que envolva um diagnóstico polêmico e podem e devem deixar os pacientes conscientes também. Um dos últimos casos polêmicos foi o do diabetes gestacional, que pelos novos critérios diagnósticos de 2010, cerca de 20% das gestantes passam a receber esse diagnóstico. Além disso, o médico deve declarar quando há conflito de interesse quando prescreve uma medicação. Por que não?
É importante também levar em consideração que o processo de decisão daquilo que é doença e que não é doença pode ser muito mais rico quando a discussão não fica limitada apenas a médicos e cientistas. A sociedade civil e representantes de tantas outras áreas do conhecimento, como por exemplo, as ciências sociais, são muito bem-vindos nesse debate.
O observatório midiático em saúde americano HealthNewsReview completou em abril de 2011 cinco anos de atividade e publicou os resultados das primeiras 1500 notícias avaliadas e que foram veiculadas por jornais, magazines, rádios e TVs.
A idéia desse termômetro de qualidade de notícias em saúde surgiu após a experiência pioneira do MediaDoctor na Austrália, ambos têm o mesmo formato e analisam apenas matérias que descrevem novos tratamentos ou métodos diagnósticos. Um painel formado por três avaliadores independentes pontua a notícia de acordo com uma classificação padronizada de dez itens considerados fundamentais para que uma matéria informe de forma satisfatória os consumidores de produtos de saúde.
Cada um dos 10 critérios analisados é classificado como satisfatório ou não satisfatório de acordo com parâmetros pré-definidos. Cada notícia recebe então uma classificação que vai de zero até cinco estrelas a depender do número de itens considerados satisfatórios.
| Pontuação | Número de ítens satisfatórios |
| 5 estrelas | 9 ou 10 |
| 4 estrelas | 7 ou 8 |
| 3 estrelas | 5 ou 6 |
| 2 estrelas | 3 ou 4 |
| 1 estrela | 1 ou 2 |
| 0 estrela | 0 |
Veja na tabela abaixo a classificação de cada item no HealthNewsReview e a comparação com os resultados inicias do MediaDoctor. Todos os critérios fazem parte das boas práticas do jornalismo em saúde recomendadas pela Associação Americana de Jornalistas em Saúde.
|
|
INFORMAÇÃO SATISFATÓRIA |
||
| HealthNewsReview* | MediaDoctor ** | ||
| Online | Impresso | ||
| Qual é o custo? | 28% | 15.2% | 23.1% |
| Quais são os benefícios? | 32% | 18.4% | 40% |
| Quais são os efeitos adversos? | 34% | 14% | 44% |
| O conteúdo da matéria é compatível com as evidências científicas? Há supervalorização das qualidades do produto? | 36% | 24.5% | 43.1% |
| Existem alternativas? | 41% | 34% | 37.5% |
| Há pelo menos uma fonte independente? Há demonstração de existir ou não conflitos de interesse? | 53% | 20.8% | 43.1% |
| O conteúdo é baseado em comunicados de imprensa? | 67% | 74.2% | 93.5% |
| Há disponibilidade em nosso meio? | 72% | 43.4% | 57.1% |
| Há abordagem de uma experiência humana normal ou de um marcador biológico como se fosse uma doença? (medicalização) | 74% | 88.7% | 94.1% |
| Estamos diante de uma novidade mesmo? | 80% | 75% | 91.8% |
* HealthNewsReview (2006-2011) – 1488 matérias
** MediaDoctor (2004) – 104 matérias
Esses observatórios midiáticos em saúde não são uma simples apreciação da produção dos meios de comunicação de massa, mas uma ferramenta que estimula a qualidade das notícias em saúde e a construção de uma maior crítica por parte dos consumidores de produtos de saúde. Além disso, o HealthNewsReview disponibiliza material educativo para jornalistas que se dedicam à área de saúde.

Evento reúne no Instituto de Saúde (IS) especialistas de diferentes países para debater modelos e pesquisas de percepção pública da ciência e da tecnologia (C&T) e suas relações com o campo da saúde
Com o objetivo de debater diferentes aspectos relacionados à percepção pública sobre temas de C&T, especificamente com foco na área da saúde, acontece nos dias 13 e 14 de abril, no Auditório Walter Leser do Instituto de Saúde, o I Seminário Internacional e Workshop de Percepção Pública da Saúde, organizado pelo Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em parceria com o Instituto de Saúde (IS) da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) e o Instituto de Investigação em Imunologia (iii/INCT) do Instituto do Coração (InCor).
Entre os debatedores estarão Martin Bauer, da London School of Economics and Political Science (Inglaterra), Miguel Ángel Quintanilla, do Instituto de Estudios para la Ciencia y la Tecnología (eCyT), da Universidade de Salamanca (Espanha), e Sandra Daza, do Observatório de C&T da Colômbia. Também estarão presentes José da Rocha Carvalheiro (FMUSP-RP e Fiocruz), Gustavo Venturi (FFLCH/USP) e Carlos Vogt (Labjor/Unicamp), que debaterão os diferentes modelos e pesquisas de percepção pública de C&T e suas intersecções com o campo da saúde.
O evento faz parte da pesquisa “Percepção Pública da Saúde”, conduzida pelo Labjor/Unicamp como parte do Programa de Pesquisa para o Sistema Único de Saúde (PPSUS), iniciativa do Ministério da Saúde (MS) em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). A pesquisa visa reunir informações acerca da percepção pública da saúde no Estado, a fim de obter subsídios para a elaboração de políticas públicas na área de comunicação voltadas para o SUS. O seminário do dia 13/04 será aberto ao público e servirá de subsídio para o workshop do dia 14/04, reservado aos pesquisadores, no qual serão discutidos elementos que farão parte de um survey, que será aplicado em todo o Estado de São Paulo.
A pesquisa “Percepção Pública da Saúde” segue a base metodológica dos surveys de percepção pública de C&T desenvolvida ao longo da última década por meio de vários trabalhos na área realizados pelo Labjor/Unicamp em parceria com outras instituições da Iberoamérica, em percepção pública de C&T, na qual o tema saúde está inserido. Os resultados da pesquisa deverão contribuir para a formulação de estratégias de comunicação e de divulgação científica da saúde que, além de promoverem uma maior difusão do conhecimento sobre o tema junto à população, possam fortalecer o sistema de gestão na área.
Para participar do Seminário, os interessados deverão preencher uma ficha de inscrição, disponível no site do Instituto de Saúde (www.isaude.sp.gov.br).
Serviço
I Seminário Internacional e Workshop de Percepção Pública da Saúde
Datas: 13 de abril (aberto ao público) e 14 de abril de 2011 (reservado aos pesquisadores)
Horário: das 08h30 às 17h30
Local: Auditório Walter Leser do Instituto de Saúde – Rua Santo Antonio, 590 – Bela Vista – São Paulo-SP – Tel. (11) 3293-2271/2260 – e-mail: ncom@isaude.sp.gov.br
Realização: Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor), Instituto de Saúde (IS) e Instituto de Investigação em Imunologia (iii/INCT)
Apoio: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Instituto do Coração (InCor), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp)
Para quem tem pressão alta, seu simples controle é capaz de reduzir o risco de uma série de doenças graves como o infarto do coração e o derrame cerebral. Entretanto, no tratamento da hipertensão arterial é difícil ter a disciplina de tomar diariamente a medicação, assim como manter um programa de atividade física e controle da dieta. O tratamento ainda é mais difícil pelo fato da pressão alta não provocar habitualmente sintomas de alerta quando em níveis elevados.
Motivar o indivíduo que tem pressão alta a seguir corretamente seu tratamento é extremamente importante, mas qual a forma mais eficaz? O periódico Annals of Internal Medicine publicou uma pesquisa esta semana sugerindo que depoimentos de pacientes gravados em DVD podem influenciar de forma positiva outros pacientes com o mesmo problema de saúde.
Cerca de 300 pacientes hipertensos com 53 anos de idade em média, e atendidos em uma clínica voltada a indivíduos de baixa renda nos Estados Unidos, foram divididos em dois grupos. Um dos grupos foi direcionado a assistir a um DVD com histórias de 14 pacientes selecionados da mesma clínica, que promovia uma percepção de semelhança entre quem assistia e os pacientes/personagens. O outro grupo foi orientado a assistir a um vídeo de dicas de saúde, que não abordava o assunto hipertensão arterial. Após 3 meses, e mesmo após 9 meses de acompanhamento, o grupo que assistiu ao DVD com relatos de pacientes apresentou melhor controle da pressão arterial, especialmente aqueles que tinham a pressão não controlada no início do estudo.
Todos os pacientes envolvidos neste estudo eram negros, população que é mais vulnerável a ter hipertensão arterial mal controlada e complicações da doença em órgãos alvo. A ferramenta de comunicação narrativa, usando depoimentos de indivíduos do mesmo ambiente social, dá um recado culturalmente relevante para quem assiste ao DVD. A estratégia utilizada tem grande potencial para ser aplicada em outras condições de saúde crônicas e, além disso, os resultados têm aplicação universal, pois cada cultura tem sua tradição e histórias peculiares.
** CORREÇÃO. Pode-se ouvir no audio que estima-se que 10% dos hipertensos não conseguem controlar a pressão. Na verdade, apenas 10% dos hipertensos têm controle adequado da pressão.
A percepção e o interesse da população brasileira pela ciência melhoraram significativamente nos últimos quatro anos. É o que revela a pesquisa “Percepção Pública da Ciência e Tecnologia no Brasil”, realizada em 2010 com cerca de duas mil pessoas em várias regiões do País e divulgada nesta semana.
A Pesquisa Nacional foi promovida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), com a colaboração da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), entre outras instituições, como a Fiocruz e a Unicamp.
O objetivo principal do trabalho foi fazer um levantamento do interesse, grau de informação, atitudes, visões e conhecimento que os brasileiros têm da Ciência e Tecnologia, tendo como público-alvo a população brasileira adulta, homens e mulheres e jovens com idade igual ou superior a 16 anos.
Em relação à pesquisa similar realizada em 2006, o percentual de pessoas interessadas ou muito interessadas em ciência passou de 41% para 65%, em 2010.
| Interesse ou muito interesse por temas específicos | |
| Saúde | 81% |
| Meio Ambiente | 83% |
| Religião | 74% |
| Economia | 71% |
| Ciência e Tecnologia | 65% |
| Esportes | 62% |
| Arte e Cultura | 59% |
| Moda | 44% |
| Política | 29% |
Para aqueles interessados ou muito interessados em Ciência e Tecnologia, o assunto de maior interesse dos voluntários da pesquisa foi Ciência da Saúde (30.3%) seguido por Informática e Computação (22.6%). Astronomia foi considerado de interesse para 1.6% dos entrevistados.
| Assuntos de interesse em Ciência e Tecnologia | |
| Ciência da Saúde | 30.3% |
| Informática e Computação | 22.6% |
| Agricultura | 11.2% |
| Engenharias | 8.4% |
| Ciências Biológicas | 6% |
| Ciências Físicas e Químicas | 3.8% |
| Matemática | 3.7% |
| Ciências da Terra | 3.7% |
| Ciências Sociais | 3.7% |
| História | 3.3% |
| Astronomia e Espaço | 1.6% |
Para aqueles pouco interessados em Ciência e Tecnologia, 36.7% relataram que é porque não entendem, 19.5% porque nunca pensaram sobre o assunto, 17.8% por falta de tempo e 10.4% porque não gostam.
| Razões para pouco interesse em Ciência e Tecnologia | |
| Não entende | 36.7% |
| Nunca pensou sobre isso | 19.5% |
| Não tem tempo | 17.8% |
| Não gosta | 10.4% |
| Não liga | 9.7% |
| Não precisa saber sobre isso | 3.6% |
Os voluntários responderam que as fontes de informação em Ciência e Tecnologia que eles julgam ter maior credibilidade foram os médicos (27.6%), jornalistas (19.9%) e cientistas de universidades (12.3%). Cerca de 40% dos entrevistados responderam que não estavam satisfeitos, ou estavam apenas parcialmente satisfeitos com a divulgação científica feita pelos meios de comunicação. Mais de 70% justificam a insatisfação pelo pequeno número de matérias e cerca de 60% porque as matérias são de difícil compreensão.
Os entrevistados reconheceram a melhoria da saúde e prevenção de doenças como o maior benefício da Ciência e Tecnologia (26.1%) seguido pela melhora da qualidade de vida (19.1%).
Clique aqui e veja os resultado da pesquisa 2010 na íntegra,
pesquisa similar realizada em 2006 e
pesquisa CNPQ 1987 sobre percepção de Ciência e Tecnologia

Estão abertas, de 26/07/2010 a 23/08/2010, as inscrições para o Mestrado em Divulgação Científica e Cultural, oferecidos pelo LABJOR – Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, da Unicamp.
Mais informações no edital, disponível no site do LABJOR.